No dia 11 de maio, celebramos
o Dia de GameForces, uma tradição que inauguramos em 2023
e prosseguimos em 2024.
Nesta data, debruçamo-mos sobre aspetos conceptuais dos videojogos e/ou da cobertura
de videojogos, apoiando-nos no nosso trabalho passado para procurar aprimorar o
nosso futuro!
Por motivos prioritários inadiáveis,
fomos forçados a adiar a edição de 2025 da publicação. Pedimos
desculpa por esta alteração de calendário inoportuna e esperamos que esta não
condicione o vosso proveito do texto.
A maldição das restrições
Recentemente, acicatado por uma
indignação profissional, elaborei um artigo para o Público. A orientação chave para
a submissão era uma e uma só: respeitar o limite de 4000 caracteres, uma
métrica para mim tão contranatura como medir uma praia pelo número de grãos de
areia, e igualmente extraterrestre para os programadores do Google Keep. Quando a caneta pousou, o texto que pari e batizei possuía o triplo da dimensão aceitável.
Amputei a introdução e conclusão, mutilei argumentos, suturei desastradamente o
tecido remanescente. Dezenas de rascunhos mais tarde, a trôpega abominação resultante conformava-se à impiedosa diretriz.
Uma revisão final ora minha ora
de terceiros e eu, esgotado e incapaz de encarar a cria nos olhos novamente,
submeti-a ao juízo dos editores. Nos dias que que se seguiram, instalaram-se
dúvidas, reservas, arrependimentos. Cozeu em forno lento uma sopa de inquietação,
que extinguiu grande parte do orgulho que poderia ter sentido no momento da aprovação.
Ainda que numa escala
microscópica e incomparável, esta peripécia recordou-me o peso esmagador das
restrições no processo criativo. Se eu, um redator de meia tigela, sinto-me
constringido por uma singular restrição, o quão asfixiados se sentirão os
desenvolvedores de videojogos, projetos multifacetados que combinam design de
arte com composição musical com programação com desempenhos vocais com tudo o
que mais se possa imaginar?
É inevitável que, por limitações
de orçamento, de timing, de tecnologia, de articulação, ou de decisões executivas,
todos os títulos se distanciem da visão original e imaculada dos
autores. Visitem a página de qualquer jogo em The Cutting Room Floor e
descobrirão torresmos de conteúdo não usado nos seus ficheiros, permanentemente
condenados ao esquecimento.
Parte destas adições por
adicionar representará conteúdo reflectidamente apartado, à medida que os
desenvolvedores iam focalizando e solidificando a sua intenção artística. Exemplo
disso é Super Mario Bros. Wonder: o último platformer de Mario foi
concebido sem amarras de tempo ou orçamento, alimentando um espírito livre que transformou
os seus criadores em prósperas estufas de imaginação. Pelas suas mãos, mais de 2000
ideias para Wonder Effects foram esboçadas; destas, somente 56 sobreviveram a uma rigorosa seleção a dedo da nata. Porém, mais frequentemente, estamos a braços
com casos estilo The Legend of Zelda: The Wind Waker. Aquando da sua produção atribulada,
o intransigente prazo de lançamento estipulado pela Nintendo forçou a equipa a cortar várias dungeons e a introduzir a Triforce Hunt, apontada unanimemente
pelos jogadores como o nadir da aventura.
Estes atropelamentos do processo criativo não se desvendam unicamente nos recônditos dos ficheiros do jogo e nas admissões taciturnas em entrevistas; persistem também no material promocional daqueles jogos que prometem o mundo e entregam um punho cheio de terra: os Battlefield 2042, The Day Before, Aliens: Colonial Marines. Jogos promovidos com irresponsabilidade e desonestidade, em que a capacidade de corresponder às altíssimas expectativas que geravam era tudo exceto uma certeza. Campanhas de marketing completamente desajustadas do produto bruto, em que permanece a dúvida do quanto da discrepância era ambição desproporcionada mas genuína e o quanto adveio de cinismo premeditado. Três trailers… que expõem sementes de experiências audazes e vanguardistas com o potencial de seduzir e empolgar jogadores de todo o mundo. Toda a revolta que legitimamente despoletaram nasce de uma traição de expectativas, da concordância generalizada de que as suas premissas resultariam em obras sofisticadas e renomeadas se devidamente concretizadas. Longe disso, por impedimentos de várias ordens, não passaram de estrambólicos e sedutores "ses".
Quando as restrições não ditam o
aborto da criação, retardam a inovação. Por 5 anos, um esboço de Mario à
garupa de Yoshi permaneceu colado à secretária de Shigeru Miyamoto, esperando
que a Super NES tornasse possível a implementação do dinossauro. O conceito
original de Metroid Dread (e, por conseguinte, a saga Metroid 2D) ficou engavetado por duas décadas, aguardando um hardware suficientemente
robusto para dar vida à visão de Yoshio Sakamoto. Que avanço mecânico poderia a
Nintendo ter introduzido e ostentado em Super Mario World, se o seu dinossauro
emblemático tivesse sido o apanágio de Super Mario Bros. 3? O quão pulsantes teriam sido os últimos 20 anos para os fãs de Metroid 2D, se a inexequibilidade
dos E.M.M.I não tivesse sentenciado a franchise a uma longa hibernação?
Apesar de tudo, este entorpecimento do progresso é o melhor cenário concebível: outros projetos, para os quais esta
postura expectante e lassa não foi uma opção, não partilharam a mesma fortuna.
Dezenas de títulos em desenvolvimento, entre edições expandidas de jogos
existentes e campanhas totalmente novas, foram carbonizados com o insucesso
comercial da Nintendo 64DD. O fim do hardware malfadado ditou o trancar
da janela de oportunidade que justificara a sua produção. Em
consequência, Super Mario 64 2, que introduziria multiplayer simétrico e
Yoshi aos Mario 3D muito antes dos lançamentos de Super Mario Galaxy 2 e Super Mario 3D World, nunca viu a luz do dia; IPs com universos e estilos de
jogabilidade novos, como Wall Street (promovido por Hiroshi Yamauchi como o “Mario/Zelda
de 64DD”), nunca viriam a adquirir forma concreta e a reclamar o seu lugar na
história do meio e nos corações dos jogadores.
Existem wikis e canais de YouTube
dedicados a listar todos os protótipos encaminhados para um aterro que fura as
nuvens. A Retro Studios propôs criar um jogo táctico ao estilo de XCOM no
universo Metroid; a Nintendo recusou. A Next Level Games procurou casar voleibol
com wrestling em Super Mario Spikers; a Nintendo rejeitou. Até Super
Smash Bros., hoje uma das maiores séries da companhia nipónica, viu o seu pitch
inicial rejeitado por Shigeru Miyamoto e apenas ganhou carne e cartucho graças à
perseverança de Satoru Iwata.
Ao invés de acusar mais tesouras fechadas sobre as asas dos criadores, dou um passo atrás, para refletir
sobre as asas que nunca chegaram a abrir. A indústria de videojogos está
recheada de criadores talentosos reféns das orientações austeras declamadas do
topo da hierarquia corporativa. Embora a Bioware se tenha tornado uma
casa de renome pelos seus universos e experiências intrincados para
um jogador, a EA pressionou-a para dirigir o título live service Anthem
em vez de dar continuidade ao seu legado prestigiante. Na outra face da moeda, o
aclamado Clair Obscur: Expedition 33 foi construído como o fruto da paixão de Guillaume Broche,
um ex-desenvolvedor da Ubisoft que se sentia aborrecido no seu posto de
trabalho e sonhava fazer algo diferente. Quantos outros talentos latentes foram
absorvidos pelas grandes companhias e, tal como ele, produziriam aventuras
refrescantes se providos de uma oportunidade?
Deixo estas inquirições ao vento, para que este as leve sem deixar rasto. De nada serve procurar respostas, quando as ínfimas indignações são invalidadas por uma verdade basilar: num plano de existência finito em tempo e recursos, o potencial humano será sempre desperdiçado. Onde há restrições, há possibilidades que não deixam o papel, há génios submersos sob camadas cimentadas de receios, há uma arte condicionada que, tal como a Lua, é autorizada a revelar uma só das suas faces.
A benção das restrições
Eventualmente, a poeira assentou,
e quis reconciliar-me com a minha cria torturada. Percorri os olhos sobre as
suas cicatrizes, e surpreendi-me ao descortinar uma profundidade extra nas suas chagas.
Descobri no texto uma veemência que normalmente me aterroriza, nascida das
afirmações menos confiantes que removi e das ressalvas sensatas que me vi
forçado a apagar. Dos floreados que expurguei, moldou-se um texto em que o
intimismo deu lugar a seriedade, normalmente indesejada nos meus textos de
opinião, mas que ali assentava na premência do tema.
Nunca, na minha escrita
recreativa, me havia regido por estes limites. Nunca, na minha escrita
recreativa, teria tropeçado neste tom argumentativo. O trabalho artístico
desenvolvido numa complacente zona de conforto entrega-se a hábitos e vícios, e
o seu escopo revela-se… limitado.
Fui ingénuo, infantil e
irresponsável por não abraçar a diretriz desde o primeiro momento, adotando-a
como ponto de partida para estruturar o artigo e amplificar a força da sua
mensagem. Não posso fingir que é novidade que "as amarras são a mãe da
invenção”: não só a expressão precede largamente a minha atividade no
GameForces e a indústria dos videojogos, como estou ciente de n testemunhos
da sua veracidade neste meio assolado por recorrentes intempéries e dores de crescimento.
A Nintendo manteve a sua posição
proeminente ao longo das décadas tanto por adotar e liderar a inovação nos
videojogos, como por reconhecer que um grande salto em diante pode exigir
exíguos passos atrás. A transição de Mario para a terceira dimensão foi talvez
a maior prova à elasticidade dos seus desenvolvedores, e é o exemplo mais
cristalino do quanto as restrições podem e devem guiar o processo criativo. A
movimentação de uma personagem em 3D eleva desproporcionalmente a dificuldade dos
desafios de precisão, pelo que a ênfase da progressão foi transferida para a
exploração. Os requisitos de armazenamento dos mundos 3D limitaram a quantidade
de conteúdo que cabia num cartucho da Nintendo 64, pelo que a estrutura de um platformer
Mario foi repensada com níveis projetados para serem revisitados várias
vezes, em diferentes missões sequenciais.
Enquanto Super Mario 64 foi moldado pelas arduidades da sua criação, The Legend of Zelda: Majora’s Mask deve-lhes a identidade e essência. A equipa comandada por Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi, e Shigeru Miyamoto assumiu a missão de desenhar uma aventura inédita de raiz em apenas 15 meses, alicerçada nos assets de Ocarina of Time. De um prazo absurdo, surge um crunch desumano e uma equipa criativa atormentada pelo desespero e urgência. Como petróleo derramado sobre uma tela, as agruras dos desenvolvedores tingiram fatalmente a história e ambientação de Majora’s Mask. A indignação dos trabalhadores com o excesso de trabalho é reverberada nos diálogos de vários NPCs ad infinitum; um pesadelo de Eiji Aonuma está imortalizado por Takumi Kawagoe por pura coincidência, quando ele o replicou numa cinemática antes deste lhe ser contado; o temor da morte é uma presença constante nos acontecimentos e anseios das personagens. Majora’s Mask é um espelho da meta desalmada que governou o seu desenvolvimento. Tal como esta restrição nunca mais voltaria a assombrar a equipa de Aonuma, também o segundo Zelda da Nintendo 64 persiste uma entrada irreplicada na série.
Com o avanço nas gerações de consolas,
o cinto apertado sobre os desenvolvedores foi-se aligeirando, de ranhura em
ranhura. Marchamos para uma indústria de videojogos que ri na cara das
necessidades de otimização de performance e armazenamento; trocamos os limites
de hardware pelos limites de orçamento. No processo, o escopo dos
videojogos foi crescendo, mas não sem uma perceção bizarra e paradoxal: quanto
mais margem de manobra as grandes desenvolvedoras possuem, mais parecem refugiar-se
nas mesmas fórmulas e ditados arreigados. Nas três grandes produtoras de hardware, uniformizam-se
as arquiteturas do hardware, as interfaces, as funcionalidades, os
comandos, até os tipos de letra. Inclusivamente a Nintendo, que segue uma
abordagem blue ocean com os seus produtos, passou a delinear o seu hardware
como uma inovação em conveniência e não em funcionalidade.
As editoras AAA regem-se agora por uma série de mandamentos, restrições da sua própria invenção. Não podemos frustrar e alienar os jogadores com os desafios que incluímos, não podemos abdicar das fórmulas e artifícios de progresso que atraem os consumidores aos novos lançamentos, não podemos destoar em demasia dos estilos de controlo e de jogabilidade mais costumários. Assim, o novo platformer 2D de Yoshi, Kirby, Donkey Kong precisa de modelos 3D. O próximo Assassin’s Creed tem de ser open-world. Os lançamentos in house da Sony precisam de ser estrondosos tour de force, com fotorrealismo e narrativas maiores do que a vida. Os grandes jogos de aventura requerem sistemas de XP e árvores de upgrades surripiados dos RPGs, independentemente de beneficiarem ou não a experiência em causa.
É imediatamente evidente que esta visão túnel restringe a diversidade e inovação no meio, mas a busca incessante pelo imaculado e pelo realista também ignora como os pequenos defeitos podem enriquecer uma experiência. Quando ouvi o áudio crispado das voicelines de Never 7 - The End of Infinity, senti que mergulhei de chapa numa cassete VHS, adensando a sensação de ter embarcado num retiro estival idílico e distante. Por seu lado, nas expressões faciais imperfeitas de Clair Obscur, o Filipe Martins descobriu uma extensão da humanidade que permeia o seu enredo pugnado e lacrimoso.
No seu extremo, a confeção hermética de um jogo para massas em laboratório, desinfestado de potenciais restrições, resulta em Concord. Com um orçamento reportado de 400 milhões, o live service fracassado terá sido o jogo mais caro que a Sony Interactive Entertainment financiou. Beneficiando de oito anos de dedicação ao projeto, a Firewalk Studios fez uso de um tempo de produção com que outras produtoras podem apenas sonhar. E alegadamente cozinhado numa cultura de “positividade tóxica”, nenhuma crítica ou reserva deteve a equipa e a concretização da sua visão. Todas as benesses viraram-se contra o jogo, quando Concord aterrou no mercado incapaz de se erguer sobre as alternativas e com um modelo de monetização desajustado para o panorama vigente nos hero shooters.
Tenho pena que as editoras não respirem
fundo, olhem em volta, e tomem nota das práticas insustentáveis que seguem e de
todos os elementos que estão a resignar à História. Exemplo prático: Donkey Kong Country. Eu adoro a saga na sua plenitude, mas há uma
clara cisão entre a ambiência clássica e a moderna. Não sei se é pelos samples
de sons escolhidos, ou pelas singularidades do chip de áudio da Super NES;
algo imbui as melodias clássicas de David Wise de um tom etéreo, contemplativo
e melancólico que não retorna nos temas contemporâneos da série, nem mesmo
quando o mesmo compositor regressa às mesmas pautas para as rearranjar com
instrumentação moderna.
Não é por acaso que os autores indie reivindicaram o trunfo da inovação. A paixão por estas inspirações de outrora fomenta a irreverência para com os dogmas de mercado e conduz os desenvolvedores independentes à autoimposição de variadíssimas restrições técnicas, seja para revisitarem ideias do passado com uma nova ousadia e sensibilidade, seja para deslumbrarem tudo e todos com fogachos de criatividade nunca antes vistos. Incapazes de competir com os orçamentos monumentais das grandes produções e a sua sanitização regulamentada, prosperam na diferença, inaugurando tendências como os roguelike e metroidvania que, após darem provas da sua segurança comercial, acabam adotadas hesitante e mecanicamente pelos colossos dos AAA.
Por aceitarem as suas
dificuldades, os elos mais frágeis da indústria de entretenimento mais
lucrativa ascendem ao seu elmo. Provam que a adversidade, quando razoável, é apenas tão asfixiante quanto a
nossa imaturidade o permitir. Se perspetivada como um pilar do processo
artístico, pode guiar o escopo dos nossos labores, iluminar caminhos nunca antes
trilhados, e proteger a nossa visão do ócio e dos tiques de frivolidade com que
uma existência laxa nos tenta.
 Reviewed by Tiago Sá
on
maio 16, 2025
Rating:
Reviewed by Tiago Sá
on
maio 16, 2025
Rating:





















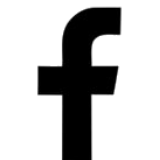

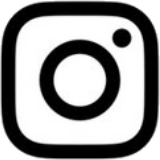





Sem comentários: